A maternidade de Maria
Para o dia 8 de março, eu poderia escrever mil e uma palavras sobre o crime do feminicídio. Mas sinto que em vez da eloquência eu seria apenas tagarela, por incapacidade de análise. Então me recolho a meu canto e republico um trecho do romance “O filho renegado de Deus”
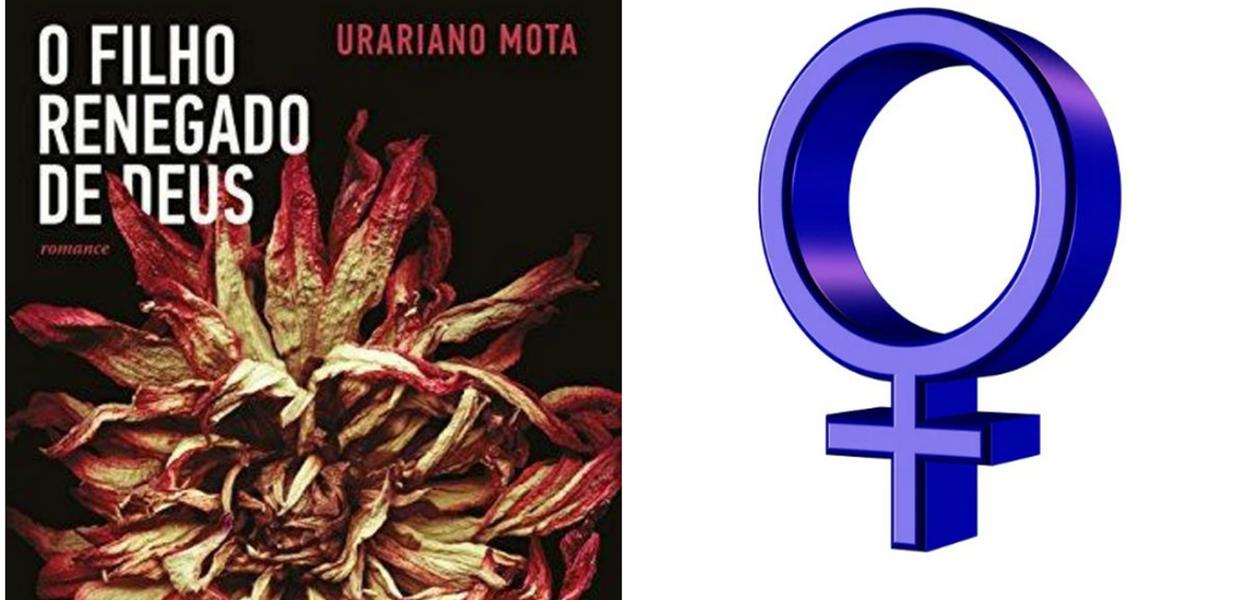
✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.
Para o dia 8 de março, eu poderia escrever mil e uma palavras sobre o crime do feminicídio. Mas sinto que em vez da eloquência eu seria apenas tagarela, por incapacidade de análise. Então me recolho a meu canto e republico um trecho do romance “O filho renegado de Deus”, que para certa Maria escrevi:
“Isso o menino não queria nem podia lembrar. Talvez porque mesmo sem ver no quarto vizinho aquele adorado rosto a suplicar, a face da agonia atravessava a parede, e ele pôde ver com os olhos da imaginação a face bela da mãe toda úmida, a balançar o maravilhoso e gordo rosto a falar:
- Não, não, eu não quero ir para a maternidade. Eu sei que vou morrer. Eu quero morrer aqui com o meu filho.
Isso ele ouviu, com o começo da percepção a que ficaria reduzido, ver, sentir, falar com os ouvidos. E por assim vê-la, ah, maldição de palavras que não expressam, via com timidez, que é o outro nome de impotência, a sua mãe suada, muito suada, alagada em suor no forno daquele quartinho, a chorar em angústia, na sua melhor camisola, pregada ao ventre inchado. Cercada de mulheres, de vizinhas, que mais pareciam urubus, com a solidariedade dos abutres que esperam a agonia, ela não parava de repetir:
- Eu quero morrer com meu filho.
As respostas a esse pedido eram um misto de fala bondosa e de arbitrariedade, daquele abuso covarde que os saudáveis têm para com os agonizantes:
- Maria, você vai.
Falavam, mas tudo, é certo, mascarado em um tom meigo, de blandícia, beatífico como as beatas de igreja costumam falar, quando se referem às virtudes e coisas santas:
- Na maternidade, você fica boazinha.
Ao que a mãe, crendo-se apenas com aquelas aves de agouro a rondá-la, respondia sem consolo, de modo mais franco:
- Eu sei que vou morrer. Eu quero ficar com meu filho.
Isso ele ouviu, escutou e viu, mas lhe chegava feito uma língua arcaica, uma fala de escravos na cidade soterrada de Pompeia. Porque ouvia, escutava e duro era alcançar o entendimento. Lembra, lembraria as palavras que se repetiam em um mantra, de invocação ou anúncio da desgraça que a razão confortável não podia compreender: “eu quero morrer com o meu filho, eu quero morrer com o meu filho”, aos soluços, do outro lado da parede. Até que chegou o pai, o homem. Com que ironia de sentido ele recordaria o termo, o homem. Diria melhor, com o significado dos anos de luta contra a ditadura, no medo, doze anos adiante: “chegou a repressão, chegou a polícia, aí vem o torturador”. Pois quando chegou o homem, aquele que é temido poder de destruição, todas as vizinhas se calaram, inclusive os abutres, que faziam o papel de carpideiras antes do corpo virar defunto. E quando o homem chegou, entrou no quartinho abrupto, sem pedir licença, pois estava na sua casa, naquilo que chamava a sua casa. Ele entrou, no próprio desejo, vestido na pessoa do Anjo Salvador, mas para todos entrou com o império de Lúcifer, de um Lúcifer que jamais tem dúvida sobre os infelizes que tem sob domínio: são seus, estão seus, ele usa, abusa e pune. Aos olhos aterrorizados do menino parecia que ali chegava a definição do destino. E com os seus olhos de ouvido viu:
- Ela vai para a maternidade. Agora.
Maria aumentou mais o seu pranto. Se antes estava em desvantagem, nesta hora, que não podia se levantar e partir para cima, ainda mais miserável se encontrava. E já sem forças, ainda assim murmurava:
- Eu quero morrer com o meu filho.
O marido não a ouviu nem a considerou. Do que reclamava a mulher? O filho era só um menino, mas nem por isso conviveria bem com a lembrança de que não fosse mais que um menino subjugado ante forças maiores, naquele momento. De não obedecer àquele raio de segundo único em que poderia afrontar o despotismo do pai:
- Que autoridade você tem de matar minha mãe? Venha para mim.
Mas o menino era só um menino. De que adiantava lamentar o herói que não fora, o herói impossível que poderia resolver a dor de Maria? Os seus grãos de valor, assemelhados a grãos de ouro, se revelaram grãos de areia. Então veio o instante de que não se lembrava, o instante que nunca desejou se lembrar, que tão oculto e marcado não lembrava, uma coisa que houve mas não aconteceu, porque não podia nunca acontecer: Maria passou pela sala, onde o menino agora se encontrava, levada em uma cadeira e muitos braços. Então ele não pôde ver, não pôde ouvir, porque ao passar por ele Maria não mais gemeu, calou-se, quis-lhe sorrir. Mas tão agoniada ia que apenas lhe jogou um último olhar, um olhar em que a esclerótica dos olhos veio menor que a pupila. Era um olhar de Maria porque estava em seu rosto, mas ali já não estava Maria. Passou outra. Passou outra mulher à procura do filho. E grande e feroz foi a dor do menino. Dor da impotência que cresceu e ganhou significado com o tempo. Naquela exata hora em que Maria perdeu a sua porta, a sua ruazinha, naquele beco, não. Ali houve um mal-estar que não se explicava, que se batia contra as histórias de um irmãozinho. O real era aquilo, aquela agonia, aquele abate? O sonho da mãe aparecia cristalino no olhar, quando ela esteve perto de ultrapassar a porta. Quando, com precisão, quando?
Houve depois um processo de fina montagem na recordação, pois ele deixara a noite anterior para amanhecer deitado na cama de Maria. Como ele atravessou aquele fim de século, da saída da mãe até a manhã do outro dia? A noite funda deve ter passado sob anestésico, ou em embriaguez precoce de menino. Como ele pudera dormir em meio a tamanha agitação na casinha e na vizinhança? “Seja o que Deus quiser”, ouvira. “Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo”, lá no fundo da noite, em um ponto escondido no escuro das sombras, alguém dissera. Então ele entrou num saco, o saco se abriu e ele estava na cama de Maria. A cama era larga, bem larga para seu corpo magro, a colcha bordada, de um tecido diferente do pano grosso, de saco de farinha de trigo, que o cobria na outra célula, que chamavam de quarto. Aquela colcha era a que se mostrava às visitas. Devia ter sido comprada a prestação, para que os visitantes pudessem comentar “como vive bem Maria”. E por isso, ao acordar, ele a alisava, ele passava a mão sobre a colcha como se passasse a mão pelo rosto da mãe, na estranha transferência que as coisas têm de guardar a pessoa que as usa. A colcha da mãe, o rosto dela, a sua bochecha lisa, agradável aos dedos. A colcha possuía até a sua cabeleira, nas franjas que desciam ou se mostravam na cabeceira.
Lembrava e não sabia como fora possível que a janela do quarto estivesse aberta. E ali, em lugar daquela noite de antes se abria um céu azul com nuvens pronunciadas, com uma luz e alegria que faziam um despudor. Um céu de escândalo de alegria, um céu que deixava em quem o visse uma realização de felicidade. Então ele vira, não sabia se por aquele homem familiar, de imagem de repouso, não sabia se por aquele vulto havia sido acordado, ou se ele aparecera depois, para melhor compor no quadro da janela a pintura do céu, aquele paraíso prometido a todos os padecentes do mundo. Então ele viu o rosto que lembrava Maria na pessoa do tio Maciel, uma cabeça de Maria sem a sua cabeleira e ternura, o irmão gêmeo e confidente da mãe, tão longe nos últimos dias e tão perto agora, a compor como um anjo bom o quadro do céu na janela. Ele, Maciel, o fitava, ele, Maciel, o observava sem rir e sem sorrir, diferente do que seria de esperar naquela hora, naquela manhã. Mas que importava? O menino, à semelhança de todos adultos que aguardam a chegada do trem, aquele trem que leva a Istambul, de Água Fria para a Turquia, o menino, à semelhança de todos adultos que esperam essa maravilha do conhecimento, não queria notar o grave na face do condutor ou o estado do vagão. O trem chegou! Tio Maciel está na janela. E para a altura do rosto semelhante a Maria, o menino pergunta:
- Meu irmãozinho nasceu?
O menino não soube depois se a crueldade é uma coisa buscada pela vítima, ou se a crueldade está em primeiro lugar na vítima, que atrai o desencanto, a dor funda, ao alimentar em si uma louca e infundada esperança. Quando ouviu “meu irmãozinho nasceu”, no mesmo tom com que o menino perguntava à mãe, “a senhora comprou o boneco Benedito”, Benedito, aquele preto danado de beiço grosso que falava nas mãos do ventríloquo, a cantar e jogar léria, ao ouvir aquilo o rosto do tio Maciel não se moveu.
- Ele chegou?
E diante do silêncio do tio, o menino perguntou mais claro:
- O meu irmãozinho já nasceu?
O rosto de Maciel pálido, por falta natural de cor ou de fuga de cor naquele instante, deu a resposta:
- A sua mãe morreu.
- O quê?!
- Sua mãe morreu.
Como era dura aquela gente de Maria! Até os mais delicados, até os de natureza mais feminina eram bárbaros. Tio Maciel, com aquele rostinho de educação santa, ousava responder à nebulosa esperança do menino, falar àquela nuvem líquida, aquosa, que se formava agora a deixar o céu azul embaçado, o ex-céu azul no vidro embaçado do trem para Istambul:
- A sua mãe morreu.
- Mentira!
O rosto de Maciel não se moveu nem saiu do lugar em que empanava a janela do trem para Istambul. Ali naquela janela o rosto de anjo evitava o azul do céu, o luminoso dia visto até mesmo no beco. E por isso os olhos do menino, porque não viam mais o azul, queriam pelo menos enxugar aquela tempestade líquida que vinha, insidiosa, no raso da vista:
- O senhor está mentindo.
- Não. Sua mãe morreu.
Ali no instante daquele século a infância do menino foi embora. Ali naquele instante, em um minuto do tamanho de um século, a infância partiu. A realidade era a mentira para o coração. Os bens nobres, o valor da essência, o leite dos peitos, o carinho, os dedos de mágico ourives em um toque nos cabelos, a palavra na voz mais quente, a compreensão infinita para a natureza do menino, sumiram. Viravam o rosto do anjo expulso na janela:
- A sua mãe morreu. .
Por que ele não disse “a minha irmã faleceu”? Ou, já que falava para um menino que tendia para a crença da resolução maravilhosa, por que não disse, “vê aquele céu, vê? Maria foi para aquela nuvem”.
- Onde, tio?
- Ali, naquele azul, Maria virou azul, Maria agora é azul”
iBest: 247 é o melhor canal de política do Brasil no voto popularAssine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:
Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

Comentários
Os comentários aqui postados expressam a opinião dos seus autores, responsáveis por seu teor, e não do 247